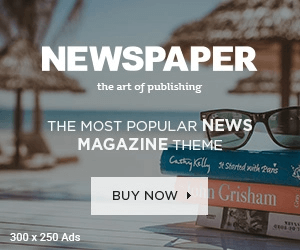Pesquisador da História da Ciência em Harvard, professor nas universidades Columbia e UFF, e diretor da Brustolin Intelligence and Strategy, Vitelio Brustolin é um dos pensadores brasileiros mais conectados aos grandes debates sobre política pública, tecnologia e segurança global.
Com formação multidisciplinar que atravessa o Direito, as Ciências Sociais e o Jornalismo, Brustolin construiu uma carreira dedicada a compreender como o conhecimento científico, a inovação e as decisões de Estado se entrelaçam no mundo contemporâneo. Doutor e mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, ele se tornou referência na análise das transformações tecnológicas e geopolíticas que moldam o futuro das democracias — tema central desta conversa exclusiva.
- Professor, o senhor vê o atual embate entre Estados Unidos e China como uma nova Guerra Fria ou como um jogo de interdependência inevitável entre duas potências que já não podem se desconectar?
Acho que seria mais preciso falar em segunda guerra fria do que em nova guerra fria. Isso ainda está sendo discutido na academia — estamos no meio do evento, então é difícil de classificar.
Tem muitas diferenças em relação à primeira Guerra Fria: não há, por exemplo, a disputa ideológica entre comunismo e capitalismo. Mas há também muitas semelhanças. A Guerra Fria foi “fria” porque as grandes potências nunca se enfrentaram diretamente, e sim em guerras indiretas — exatamente o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Ucrânia ou no Oriente Médio.
Especialmente na Ucrânia, porque o conflito tem desgastado tanto a Rússia que ela não conseguiu defender seus parceiros no Oriente Médio, como na Síria ou no Irã. Nem mesmo parceiros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva a Rússia tem conseguido proteger.
Ainda assim, Moscou vem buscando se apoiar em um novo eixo de alianças. Com a Coreia do Norte, por exemplo, que tem enviado soldados e munições — cerca de 4 milhões de cartuchos — para a guerra na Ucrânia. Com a China, vista como parceira “sênior” da Rússia neste momento, e que já declarou abertamente que não pode deixar Moscou perder a guerra. Ou ainda com o Irã e a Venezuela, que integram esse grupo, mas que também não parecem dispor de garantias reais de defesa.
Há, claramente, elementos típicos de uma guerra fria: corrida armamentista, aumento de arsenais nucleares e polarização geopolítica. A China, por exemplo, expandiu fortemente seu arsenal nuclear — de cerca de 350 ogivas para mais de 600 — e planeja chegar a 1.500 até 2030. Por isso, na minha visão, estamos, sim, em um contexto de uma segunda Guerra Fria.
- Muitos analistas afirmam que a competição tecnológica — especialmente em semicondutores e inteligência artificial — substituiu o arsenal nuclear como instrumento de poder global. O senhor concorda? Qual é o “novo gatilho” dessa disputa?
As armas nucleares ainda são as armas definitivas, mas a combinação de inteligência artificial com tecnologia militar pode desencadear novas dimensões na guerra. Então, inteligência artificial operando enxames de drones, por exemplo, ou inteligência artificial fazendo ataques cibernéticos em grande escala e organizados contra defesas também de inteligência artificial.
Tudo isso são componentes que são adicionados ao arsenal nuclear. As armas nucleares ainda são a maior ameaça à vida na Terra, e elas podem se tornar instrumentos para utilização da inteligência artificial.
- A política industrial americana, com leis como o CHIPS Act e o Inflation Reduction Act, é uma resposta defensiva à China ou o início de uma nova estratégia industrial global?
É uma resposta defensiva à China. Os Estados Unidos ainda não têm uma nova estratégia industrial global, isso não foi posto por esse governo, pelo governo Trump.
Embora movimentos como o Chips Act, por exemplo, venham do governo Biden, muitas políticas aplicadas pelo Trump à China foram mantidas pelo Biden, e muitas políticas do Biden também estão sendo mantidas pelo Trump. Tudo isso no sentido de conter a China.
Me parece uma resposta defensiva. Os Estados Unidos não formalizaram essa estratégia industrial global, pelo menos não ainda. Essa resposta defensiva pode evoluir para uma estratégia, se a guerra comercial entre os dois países persistir.
- O quanto o avanço chinês sobre países do Sul Global — via infraestrutura, crédito e energia — está alterando o equilíbrio tradicional das alianças americanas, inclusive na América Latina e na África?
Essa expressão “Sul Global” não tem consenso nenhum sobre o que significa. É uma expressão bastante disputada e discutida. Mas aí você fala sobre infraestrutura, crédito, energia — especialmente na América Latina e na África.
Nesse momento, existe um movimento dos Estados Unidos de pressão sobre países da América Latina. Nós vimos isso na Argentina, onde o Milei recebeu ajuda do Trump, mas com a condição de afastar a Argentina da China.
Nós vimos isso também no Canal do Panamá, onde dois portos chineses foram comprados pelo consórcio americano BlackRock — foram forçados a serem vendidos. Os Estados Unidos mandaram tropas para o Panamá, que desta vez foram convidadas.
Vemos a imposição contra o regime do Maduro e, nesse momento, o Brasil é colocado nesse tabuleiro geopolítico. Uma das condições que estão sendo postas à mesa do Brasil é justamente não desdolarizar e se afastar de alianças geopolíticas que não interessem aos Estados Unidos.
A desdolarização, que é uma pauta levantada inclusive pelo presidente Lula no BRICS — e que não foi levantada dessa forma nem pela China — interessa muito mais à Rússia, por causa das sanções. Mas interessa, sobretudo, afastar o Brasil, que é o maior país da América Latina, da influência chinesa e russa.
- Economicamente, há limites para a desglobalização? Até que ponto as cadeias produtivas realmente podem se “desacoplar” entre EUA e China sem gerar choques inflacionários duradouros?
Os limites são os limites das parcerias estratégicas. Os Estados Unidos acusam a China de sabotar todos os países do mundo. Os Estados Unidos estão dizendo que é a China contra o mundo.
É isso que Scott Bessent [Secretário do Tesouro dos Estados Unidos] está dizendo, e o Howard Lutnick [Secretário do Comércio dos Estados Unidos] está dizendo que a China está controlando, por exemplo, as terras raras e outros produtos — inclusive produtos que, segundo os americanos, nem fazem parte da cadeia produtiva da China.
Economicamente, os limites dessa desglobalização são os limites das novas alianças. Não tem como produzir tudo internamente. Os países não são ilhas.
As experiências de países que tentaram produzir tudo internamente são, por exemplo, as da União Soviética, que produzia carros muito ruins, muito caros, pouco eficientes e com pouca inovação. Não tem mais como recuar nesse sentido no mundo todo, a não ser com a eclosão de uma guerra que force os países a uma produção interna — e não é isso que está acontecendo agora.
Então, o limite é o das parcerias estratégicas. É a economia forjada pela geopolítica.
- No plano militar, o senhor considera real a hipótese de um confronto direto em Taiwan nos próximos anos ou isso continua sendo apenas uma guerra de narrativas e dissuasão?
Olha, o Xi Jinping disse que gostaria de retomar Taiwan até 2027, neste mandato dele. A China vai tentar recuperar Taiwan politicamente — isso seria o melhor para a China, estratégia empregada, por exemplo, em Hong Kong.
A iminência de um conflito em Taiwan, ou por Taiwan, depende muito do destino da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que agora está se projetando para outros países da Europa — Estônia, Letônia, Lituânia, os países Bálticos, Polônia e Moldávia —, onde a Rússia tem feito incursões aéreas.
O destino de Taiwan, portanto, depende de como a Rússia vai se sair dessa guerra, porque a Rússia é uma potência bélica que a China ainda não é no mesmo patamar. A China, por exemplo, não tem o arsenal nuclear que a Rússia possui.
Voltando à sua pergunta sobre armas nucleares, há a questão de que a China usa a Rússia como um pivô, como uma válvula de pressão sobre a Europa e os Estados Unidos.
Então, a iminência da guerra por Taiwan depende do desenrolar do cenário geopolítico na Europa primeiro.
- A China tem acelerado acordos em moedas locais e fortalecido o uso do yuan em operações internacionais. Essa tendência ameaça o papel do dólar ou ainda está longe de abalar a hegemonia financeira americana?
Bom, não há dúvida de que, com o passar do tempo, haverá uma substituição do dólar. A questão é que ainda não existe uma substituta para o dólar. Já se tentou utilizar o euro, mas aí veio a crise dos PIGS — Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha.
A China tentou colocar o yuan como uma moeda do pacote do FMI, uma moeda da cesta de moedas do Fundo, lá em 2015, e não foi bem-sucedida. Seria a quinta moeda, junto com o dólar, o euro, o iene japonês e a libra esterlina. Mas não deu certo: houve uma forte inflação na Bolsa de Valores de Hong Kong.
O que acontece é que, para transformar o yuan em uma moeda global, a China teria que abrir a conta de capital do yuan. Teria que abrir mão do controle que exerce sobre essa moeda, para que ela fosse realmente conversível e transparente o suficiente para isso. E não é o que está acontecendo.
A estratégia chinesa tem sido realizar empréstimos — a chamada debt trap, ou “armadilha da dívida”. A China concede empréstimos, inclusive, a países que não têm condições de pagar, mas que acabam devendo à China favores na ONU, apoio diplomático ou o pagamento pela infraestrutura que o país asiático constrói nesses territórios.
Mas, respondendo à sua pergunta, se essa tendência ameaça o papel do dólar: não. Essa tendência não ameaça o papel do dólar. Ela é apenas uma estratégia da China para distribuir mais yuan sem ter que tornar a moeda mais transparente ou abrir mão do controle monetário.
- Do ponto de vista político, como o senhor enxerga a postura dos EUA em relação aos aliados europeus? A OTAN e a União Europeia podem se tornar mais autônomas, ou seguirão dentro da lógica bipolar EUA-China?
A OTAN está em uma corrida armamentista. Estamos vendo na Europa a maior corrida armamentista desde a Segunda Guerra Mundial.
A Organização tem um pacote de 800 bilhões de euros em investimentos, e a prioridade é o fortalecimento da base industrial de defesa europeia. Vemos isso nos planos da Alemanha, por exemplo, que ampliou significativamente seus investimentos nessa área. A Europa está em uma corrida para continuar sendo relevante e se tornar um parceiro — ou um ator geopolítico — mais influente e menos dependente dos Estados Unidos.
Como eu enxergo a postura dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos estão desembarcando de uma estratégia de 80 anos, que considerava mutuamente benéfica a segurança oferecida à Europa — benéfica tanto para os europeus quanto para os americanos.
Agora, os Estados Unidos não querem mais pagar a conta da segurança europeia. São os próprios americanos que afirmam isso, dizendo que estão financiando o Estado de Bem-Estar Social da Europa. E aí chegamos à próxima questão: o mundo seguirá dentro de uma lógica bipolar entre Estados Unidos e China.
Quando há multipolaridade e ocorre confronto, os atores tendem a se organizar em dois polos. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial: havia três guerras separadas — a Alemanha nazista projetando poder sobre a Europa, a Itália fascista de Mussolini projetando poder sobre o Mar Mediterrâneo e a Etiópia, e o Japão imperial projetando poder sobre a China.
Em determinado momento, esses três perceberam que tinham interesses em comum e formaram o Eixo, em contraposição aos Aliados. Assim, vários atores tendem a se agrupar em dois polos antagônicos. Portanto, embora a União Europeia e a OTAN — vamos colocar as duas no mesmo pacote, ainda que a OTAN inclua Estados Unidos e Canadá — estejam se armando, a Europa ainda tende a se organizar ao lado dos Estados Unidos e de outros atores ocidentais.
- Se projetarmos para 2030, o que o senhor acredita que será o eixo definidor da ordem mundial: a tecnologia, a energia, ou o controle das rotas comerciais?
O problema dessa pergunta é que os três fatores são relevantes.
Por exemplo, você pode ter uma imensa tecnologia de inteligência artificial, mas precisa de energia para que essa tecnologia funcione — senão, não adianta. Então, não dá para dissociar.
Controle de rotas comerciais também é essencial. Não tem como ter uma excelente tecnologia e energia e deixar tudo isso fechado dentro do seu país. Você precisa do comércio.
Os três fatores são relevantes; não são autoexcludentes.
- Por fim, professor, qual é a sua hipótese central: caminhamos para um mundo multipolar cooperativo — com novas regras de convivência entre potências — ou para uma divisão estrutural e prolongada entre blocos rivais?
Com certeza, para uma divisão estrutural e prolongada entre blocos rivais. Só que, dentro desses blocos, existe cooperação entre os integrantes de cada um.
Agora, isso não significa que haja uma aceitação da multipolaridade — não é nada disso.
Na verdade, quem afirma que o mundo é multipolar está dizendo que quer mudar o status quo e liderar um novo mundo, em que um império em declínio não terá mais o mesmo papel de antes.vitelio 2